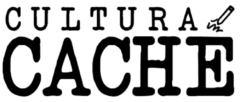Depois de Ex-Pajé, Luiz Bolognesi se aventura novamente em um filme com temática indígena. Em uma entrevista concedida ao canal 3 em Cena, Luiz conta uma história muito importante e que vale ser lembrada antes de entrar propriamente nos méritos de sua mais recente obra chamada A Última Floresta. Bolognesi conta que ao se encontrar com Davi Kopenawa para lhe apresentar seu projeto de filme e convidá-lo para ser co-roteirista, Davi fez questão de fazer uma crítica ao seu filme anterior Ex-Pajé, dizendo-lhe que não gostou do longa, pois o pajé retratado demonstrava uma fraqueza muito grande em relação ao pastor evangélico antagonista e que se, por acaso, um dia, Luiz e Davi viessem a trabalhar juntos, este filme teria que mostrar a beleza e a força de um xamã e seu povo e não suas fraquezas, não mostrá-los como “coitados”; em seguida Davi reitera dizendo: “O seu povo (os brancos) que está doente e não o nosso”.
Creio que este seja um bom ponto de partida para discutirmos um pouco do universo envolto neste grande filme chamado A Última Floresta e que vem tendo projeção internacional em festivais, inclusive conquistando prêmio em Berlim. Mas o que difere A Última Floresta dos demais filmes com esta temática ou filmes chamados etnográficos? Primeiro, sem dúvidas, a sua exímia escolha formal. Há tempos se discute os limites entre ficção e documentário, como se isto levasse a algum lugar além da mera discussão acadêmica. É de se elogiar que Luiz Bolognesi não reflexiona esta problemática ao realizar o filme, claro, muito por conta da influência que Davi exerceu no processo criativo. Desta maneira, se não há forma “pensada”, então a forma se ajusta ao filme e à essência captada através de uma imersão do realizador dentro do tempo daquela aldeia. E foi isto que Bolognesi buscou em sua realização. Contudo, não há como negar que existe sim a forma já pré-estabelecida através da linguagem cinematográfica etnográfica, assim como na escrita do livro que inspirou o diretor a realizar o filme, chamado A Queda Do Céu, também havia a forma pré-estabelecida pela literatura etnográfica. Mas como não fazer esta forma atrapalhar a mensagem? Como captar outro tempo, um tempo vivido por essa aldeia yanomami através do ponto de vista deles?
Luiz cita na entrevista que em um dado momento durante a filmagem sentiu que estava a perder o controle da obra, e isto é muito sintomático ao relacionar com as perguntas acima. Luiz Bolognesi confessa que neste momento pensou que talvez o filme não funcionasse para o público branco, mas apenas para o povo que estava retratando. Essa sensação de descontrole e confusão na mente do autor poderia gerar algum tipo de mudança abrupta na condução da direção da obra, se tratasse de um autor que ao se deparar com uma situação deste tipo trouxesse seu ego de volta para perto de si. Mas não foi o que Bolognesi fez, mesmo com esta sensação iminente, o diretor seguiu através de um processo criativo pautado pela convivência com os membros daquela aldeia, sem tentar impor ideais formais e narrativos para a construção do filme. Como ele mesmo fala, sua intenção era a de fazer um filme de conexão. Para entendermos melhor o que ele queria dizer com isto, é essencial acessarmos um pouco do livro A Queda do Céu, já mencionado acima.

A Queda do Céu é um livro de Bruce Albert e Davi Kopenawa Yanomami, que retrata o povo yanomami através de um longo relato de Davi Kopenawa. Em um dado momento da obra Davi diz que uma das intenções do livro é a de, através da palavra escrita transmitir a beleza de seu povo, para evitar futuros constrangimentos e pré-julgamentos por parte dos brancos. Ao decorrer da leitura nos deparamos com uma estrutura religiosa e mitológica tão complexa, que assim como Mircea Eliade diz em seu livro Tratado de História das Religiões, desmistifica o mito de que as religiões primitivas carecem de complexidade.
É evidente que o cinema também teria essa força e capacidade de, através da imagem, amplificar os dizeres de Davi. Não é à toa que Bolognesi decidiu realizar este filme após a leitura do livro e também convidar Davi para ser co-roteirista – um movimento essencial para o filme. Se as palavras já tinham feito este trabalho, o cinema entra como potencializador para perdurar sua mensagem, então não poderia ser realizado de outro jeito e Luiz Bolognesi tinha este conhecimento.
Durante a exibição confrontamos imagens emblemáticas por meio da encenação da mitologia deste povo através dos próprios yanomami. A contação de histórias faz uma passagem geral de suas crenças, que de forma resumida identifica alguns elementos fundamentais de sua cultura e do seu sagrado. Um destes elementos é o poder do sonho. Para se ter uma ideia, através dos sonhos, pode-se tornar um xamã, é o que acontece com o padrasto de Davi. Importante pontuar também que na entrevista de Luiz ao 3 em Cena, o mesmo diz que Davi, em seu primeiro encontro, expressou que pare ele o cinema era como um sonho. Então nada mais justo do que explorar este campo dentro do próprio filme, os sonhos de um povo retratado dentro de uma estrutura de sonho. Por fim, Bolognesi cita também a importância do sonho no próprio processo criativo do filme, onde ele e Davi conversavam sempre sobre os próprios sonhos enquanto o diretor estava a viver na aldeia, e a partir da discussão e interpretação destes sonhos, construíam o filme juntos.

Tudo isto, leva o filme, claro, para um campo do realismo mágico (para nós, brancos) através da encenação das histórias do povo yanomami, paralelamente aos momentos em que os mesmos tomam o pó de yãkoana. A confusão causada em nós é um grande mérito, pois nos tira de uma zona de conforto formal e narrativa. O filme não exige uma compreensão intelectual por parte do expectador, e aqui reside a tal conexão buscada. Aquele que souber afastar a sua experiência e adentrar-se ao filme de forma inocente, alcançará essa conexão. Ou seja, o mesmo movimento do autor da obra durante o seu processo criativo é exigido ao público, para que se construa essa tal conexão.
Há uma passagem do livro A Queda Do Céu em que Davi fala sobre o uso do papel e da escrita branca, em que ele diz:
“O pensamento dos brancos é outro. Sua memória é engenhosa, mas está enredada em palavras esfumaçadas e obscuras. O caminho de sua mente costuma ser tortuoso e espinhoso… Só contemplam sem descanso as peles de papel em que desenharam suas próprias palavras. Se não seguirem seu traçado, seu pensamento perde o rumo. Enche-se de esquecimento e eles ficam muito ignorantes.”
Ao rememorar esta passagem lembrei-me de um acontecimento recente e muito simbólico para esta ideia do branco acumulador de livros frente à uma leitura errada de uma obra de arte indígena. Em um dos episódios do programa televisivo Papo de Segunda, do canal GNT, o convidado foi o pensador indígena Ailton Krenak, que durante boa parte do programa não foi levado a sério, ou melhor, não foi compreendido, ou melhor ainda, por boa parte dos participantes, principalmente o filósofo Francisco Bosco, nem sequer tentou o compreender, uma vez que partia sempre do seu repertório fechado para dialogar sobre algo que estava fora do seu domínio. O tal acumulador de livros, de peles de papel, que Davi fala e que remete sempre a uma certa modernidade que carrega seu ego à frente. Por incrível que pareça, o massacre não é só físico, mas também intelectual e não só por parte da classe conservadora, mas também de uma parte da esquerda, que ainda não concedeu a credibilidade merecida aos pensadores e artistas indígenas.

Não podemos partir sempre de nossa experiência e isto o filme retrata muito bem. Não sabemos de nada, somos recém-nascidos naquele espaço-tempo, então assim como um recém-nascido, temos que escutar, ouvir e observar antes de mais nada. O conhecimento acumulado pelo homem branco, povo da mercadoria, povo da utilidade, da produtividade, tem duas faces, pois liberta-se através de uma percepção intelectual das coisas, mas prende-se e esvazia-se, distanciando da experiência do próprio corpo. À vista disso, que a arte branca tem que interferir o quanto menos nessas narrativas, Bruce faz isto e Luiz também na sua sábia escolha. Mas isso, logicamente não quer dizer que não podemos fazer um filme ou escrever seja do que for. Qualquer um pode falar do que quiser. Contudo, Bruce e Luiz não querem através dos yanomami trazer uma lição de moral para a modernidade perdida, mas sim potencializar o alcance desses povos, e nada feito através de denúncia, os garimpeiros entram na narrativa naturalmente, pois eles já estão ali inseridos de forma brutal no cotidiano daquela aldeia. É engraçado que nós enquanto sociedade não queremos fazer a autorreflexão de tentar entender o porquê estamos doentes, como Davi fala no início, e procuramos nos “coitados” alguma forma de justificar o nosso defeito enquanto sociedade.
A Febre, filme de Maya Werneck Da-Rin trouxe um pouco deste lado mítico, mas se manteve no campo da ficção. Para A Última Floresta não existe rótulo, assim como em A Queda do Céu também não existe. Não são objetos de um tempo outro, pois há o mínimo de interferência. Mas são quase isto. E no fim, a pergunta que fica não é o que podemos aprender com os povos originários. Como Krenak mesmo diz, nós, brancos, tivemos muito tempo para aprender e não nos interessamos. Hoje, precisamos acima de tudo, respeitar seu espaço, cultura, sagrado, e deixá-los viver do jeito que eles quiserem, sem imposições físicas e intelectuais. Tal fator é tão simbólico que em uma passagem do livro Davi afirma que os yanomami, desde muito cedo, não querem ser chamados pelo nome. O nome não importa. O corpo é muito mais presente do que a ideia de um nome. Os brancos gostam de nomear as coisas do jeito deles, contudo, precisamos respeitar e foi isto que Luiz Bolognesi fez, e acima de tudo o que Bruce Albert fez com seu livro. Não é à toa que a obra foi publicada após 30 anos de do seu convívio com os yanomami. É complicado afastar o ego o máximo possível. De certa forma, Luiz Bolognesi também conseguiu este feito e realizou de forma simples, na minha humilde opinião, o mais complexo e notável filme anti-etnográfico brasileiro dos últimos anos.