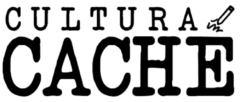Por conta do movimentado lançamento da versão de Zack Snyder de A Liga da Justiça, voltou ao centro do debate a questão do direito ao corte final de um filme. Dessa vez com direito a pedidos de diversas contas na internet, criação de hashtags e uma campanha massiva para a tão sonhada versão do diretor. Com certeza, nenhum director’s cut ganhou tanta comoção e talvez isso diga muito mais sobre uma nova forma de se relacionar com os filmes e suas possíveis versões, do que sobre a manutenção da visão de um diretor.
É bom ressaltar que este não é um texto sobre Liga da Justiça de Zack Snyder, mas sobre uma relação entre filme e o direito ao corte final, como essa relação foi alterada ao longo da história e como parece ter ganhado um novo capítulo com o corte de Zack Snyder. Algo tão significativo que mudou até o nome do próprio nome do filme, A Liga da Justiça passou a ser Zack Snyder’s Justice League, o nome do diretor em frente ao próprio nome do longa.
A questão do dono do corte é uma condição própria do cinema americano e sua lógica exclusivamente industrial. Essa questão até pode ser encontrada em outras filmografias, mas é muito raro que em lugares como a América Latina ou Europa existam problemas entre o pensamento de um diretor e seu corte final. Nestes dois exemplos, o que se constata são modelos de realização cinematográficas diferentes aos dos EUA. A questão do corte final é uma condição puramente econômica. O dinheiro que manda na montagem final.
E o dinheiro se resume a uma pessoa na cadeia do cinema, o produtor. Ou, especificamente no cinema americano, ao dono do estúdio, que se materializa na figura do produtor cinematográfico. Esse é o modelo americano de se fazer filmes há pelo menos 100 anos e dificilmente ele será substituído, mesmo que em alguns momento tenha passado por crises. Ainda que filmes americanos contem com incentivos públicos e fiscais como as cinematografias europeias e latino-americanas, o cinema de lá entende o filme como um produto puramente mercadológico e assim que colocado em praça deve ter seu custos abatidos e gerar receita para seus produtores, donos de estúdios e, hoje, acionistas. Nessa lógica, a figura do produtor, o profissional que possibilita a realização do filme, é também responsável por garantir que a obra/produto seja lucrativa. O bom produtor tem na cabeça os gêneros que estão agradando ao público, os atores que estão nas mídias e os assuntos em voga, e pensa como tudo isso pode estar dentro de um conteúdo lucrativo, relevante e agradável a sua audiência, minimizando os riscos de prejuízo e maximizando as chances de lucro. Nesse modelo, o produtor é o dono do filme.

O modelo puramente industrial e mercadológico esteve em estado bruto durante os anos 1930 e 1940 nos Estados Unidos, período conhecido como a Hollywood Clássica. O momento de maior expansão econômica e cultural do cinema americano. Nessa lógica, comandado pelo produtor, um filme era realizado numa verdadeira linha de montagem. Uma ideia chegava ao departamento de roteiro, uma série roteiristas trabalhava nela até ser aprovada pela produção, depois o produtor selecionava os atores, a história partia para os sets, onde era filmada e quando os copiões (o material bruto filmado) passava pelo crivo do produtor, seguia para a montagem, onde uma equipe de editores montava o filme e assim que o produtor fechava o corte, a obra era levado para sua estreia. E assim ocorria tudo novamente. Foi no início desse período que surgiu o Oscar, brindando a indústria do cinema e que até hoje premia o melhor filme com um prêmio para o produtor.
Nessa lógica, o filme perfeito é aquele realizado em menos tempo, que cumpra os requisitos pré-determinados pelo produtor e no final atinja o público. Na época, produtores como Irving Thalberg, os irmãos Warners, Louis B. Mayer e David O. Selznick eram colocados no topo e o diretor de cinema era só mais um operário nessa cadeia. Nessa operação matemática/industrial, esquece-se que a feitura de um filme parte de uma habilidade e de uma sensibilidade para tirar ideias do papel e transformá-las em imagens e isso é trabalho do diretor. Assim como toda obra de arte, o cinema também necessita da expressão humana e isso costuma contradizer pré-requisitos. Dessa forma, o embate entre diretor e produtor é tão antigo quanto o cinema americano.
Obviamente que tinham os bons funcionários e os bons diretores, os grandes clássicos, que permanecem vivos até hoje, costumavam ser realizados pelo segundo grupo. E a função do diretor passava também por manter sua visão mesmo com as obrigações impostas pelo produtor. Tinha alguns caminhos para isso, filmes mais caros, com grandes astros, costumavam a serem seguidos mais de perto pelo produtor. Obras da série B, com menos recursos, dentro de gêneros mais “popularescos” tinham mais autonomia para o trabalho do diretor. Dessa forma, os cineastas dessa época encontravam modos de colocar suas marcas estéticas e as suas próprias temáticas por trás dos pedidos dos produtores. É o que Martin Scorsese chama de contrabando. É assim que ainda hoje reconhecemos John Ford, Howard Hawks, Billy Wilder, Nicholas Ray, Fritz Lang como grandes diretores americanos, pois eram cineastas que contrabandeavam suas próprias ideias em filmes realizados sob a encomenda dos estúdios. Mesmo assim, se um desses nomes colocasse seu pretenso pensamento artístico escancaradamente acima das ordens do produtor, sua ideia era cortada, porque o corte final era dever, função e privilégio do produtor.
Tiveram algumas exceções, a mais notável foi Orson Welles. Um artista prodígio do teatro, que em seu primeiro contrato para realização de um longa-metragem ganhou carta branca do estúdio, inclusive direito ao corte final, algo inimaginável para diretores que estavam em Hollywood há anos. O resultado foi Cidadão Kane, filme revolucionário, verdadeira obra de diretor em meio a Hollywood dos produtores. Se hoje é assim que conhecemos o filme de Welles, na época ele foi um fracasso de público, contou com uma longa campanha de difamação e o seu contrato com a RKO foi praticamente rasgado. Em seu próximo filme, Soberba, o jovem cineasta terminou a montagem e enviou para o estúdio, como resposta foi mandado para uma terra chamada Brasil e quando voltou seu longa estava retalhado num corte de 88 minutos feito pelo estúdio, a única versão que se tem conhecimento até hoje. Naquela época não houve campanha pelo lançamento da versão de Welles. O cineasta viveu o restante da carreira tentando fazer um filme que tivesse direito total sobre o material. Praticamente nunca conseguiu.
Se Orson Welles caiu pela maldição do dinheiro, foi o lucro em baixa que transformou a exceção representada por ele em regra. Durante a década de 1960, Hollywood passou por seu pior momento de crise, marcado pelo esvaziamento das salas de cinema e a invasão da televisão nos lares americanos. Sem recursos, o modelo industrial se viu obrigado a se modificar, entrou em Hollywood uma geração de novos profissionais, diretores vindos da televisão ou jovens recém saídos das universidades. O problema é que esse novo operariado chegou com um vasto conhecimento da própria história do cinema, muito influenciado pelos contrabandistas da Hollywood clássica e pelo cinema europeu dos anos 1950 e 1960, que reconhecia os diretores como verdadeiros autores. Com menos dinheiro e muita convicção da própria condição no cinema, a geração conhecida como Nova Hollywood realizou filmes ousados, esteticamente diferenciados e com temáticas extremamente provocativas. Com liberdade total, filmes como Bonnie e Clyde, Perdidos na Noite, Easy Rider, A Primeira Noite de um Homem, O Poderoso Chefão e Taxi Driver foram feitos com apoio de produtores e estúdios. Finalmente o dono do corte era o diretor.

O retorno foi melhor que o esperado, se as obras ousadas reconectavam o público e traziam prestígio aos filmes, a geração de Coppola, Scorsese, De Palma, Spielberg e George Lucas começou a trazer retorno financeiro. Principalmente estes dois últimos e seus blockbusters lançados em pleno verão, Tubarão e Guerra nas Estrelas. Lucas e Spielberg fizeram o dinheiro retornar com tudo à Hollywood, não é à toa que ambos tornaram-se também produtores. Com o dinheiro de volta, principalmente na metade final dos anos 1970, era a chance dessa geração lidar com as grandes fortunas prometidas por Hollywood, mas com a liberdade que eles representavam. Com grandes orçamentos, a geração da Nova Hollywood não vingou, pelo contrário, deu prejuízo, os pupilos se tornaram, assim como Welles, amaldiçoados pela indústria.
O filme síntese desse momento foi O Portal do Paraíso, segundo longa de Michael Cimino, realizado após o sucesso de público, crítica e prêmios que foi O Franco Atirador. O faroeste que remonta a origem da sociedade americana era o maior orçamento da época, o cineasta brigou para que sua versão fosse levada até a última consequência, o resultado é um filme com quase quatro horas de duração, que custou 44 milhões de dólares (alto valor para época), arrecadou apenas 4 milhões em todo o mundo e levou sua produtora a United Artists (nada mais significativo) a falência. Cimino recebeu uma punição exemplar, foi completamente escanteado de Hollywood, teve muita dificuldade para realizar outros filmes, mostrou-se ressentido com esse movimento até a fase final de sua vida, quando O Portal do Paraíso passou a ser reconhecido como uma grande obra. Não houve uma campanha massiva para Michael Cimino continuar sua carreira.
Nos anos 1980, a Nova Hollywood ficou com a cara da velha Hollywood. Coppola, Friedkin, Scorsese, De Palma, se viram obrigados a se adaptarem à lógica industrial que voltava a ser regra nos EUA. Coppola, que sonhava com o próprio estúdio, quase faliu e a década de 1980 foi marcada por filmes de encomendas, muitos sem a montagem final. Scorsese voltou aos moldes dos antigos contrabandistas, dizia fazer dois filmes para os estúdios para investir em um projeto mais pessoal. Friedkin encontrou espaço na TV. De Palma passava anos para convencer seus projetos a serem produzidos. O dinheiro voltava a mandar e com eles as rusgas entre produtores e diretores. Nem Lucas e Spielberg, agora produtores de sucesso, conseguiram manter a paz entre as partes. Spielberg, aliás, tinha como missão garantir o corte final para o diretor dos filmes que produzia, caso de Os Goonies e Gremlins, mas esse pacto veio abaixo com a produção de Poltergeist e a péssima relação entre Spielberg e Tobe Hooper. Filme marcado por diversos pedidos de refilmagem e um boato de que o diretor de Tubarão foi o responsável pela finalização de Poltergeist. A verdade é que Hooper ficou marcado pela indústria e teve sua carreira também amaldiçoada, já Spielberg, que sempre tratou bem o dinheiro e o dinheiro dos outros, continuou produzindo e tendo direito ao seu corte final.
O dinheiro manda e Hollywood mantém a lógica que voltou à regra nos anos 1980, década que marcou justamente o que se vê em peso hoje: franquias, derivados, filmes que podem render para além das telas em videogames, brinquedos, ou parques de diversões. Regra que vez ou outra escancara as diferenças entre produtor e diretor, entre o corte de estúdio e uma versão que existe só na cabeça do cineasta. Essa relação é mediada por duas condições: a financeira e a de poder. A versão do estúdio existe para minimizar prejuízos, e a única forma de alterar essa relação é o diretor ganhar um poder que ultrapasse o do produtor. Como aconteceu com Blade Runner, um dos director’s cut mais famosos até hoje. Em 1982, ainda com Ridley Scott despontando na carreira, a ficção científica foi retalhada pelo estúdio, lançada com uma narração não planejada e com um final refeito de última hora. O filme foi um fracasso, mas com a popularização do VHS, o longa atingiu um novo público, foi ganhando notoriedade, enquanto Ridley Scott ganhava prestígio. A possibilidade de um novo corte animava os fãs e isso deu um novo poder ao diretor. Depois de dez anos, Blade Runner foi relançado na versão que se conhece até hoje. Nesse caso, de certa forma, houve uma campanha pela versão de Ridley Scott.

A versão de Blade Runner aconteceu por duas condições: esse novo poder cedido ao diretor e a possibilidade de uma nova janela de exibição (leia-se, uma nova forma de fazer dinheiro), na época marcada pelo mercado de Home Video. Parece bastante óbvio como isso se relaciona com o Snyder Cut, mas há mais uma conta nessa equação. E ela parte desse objeto de culto por um nicho, um interesse de fã por esse conteúdo, algo que fez Blade Runner ser remontado dez anos depois e que levou bem menos no caso da Liga da Justiça. No fundo, Hollywood mudou pouco seus parâmetros desde os anos 1980, mantendo um ideal desde os anos 1930, tentando, apenas, se moldar nesse novo mundo de streamings. O que está no centro do corte de Snyder e toda sua relação cultural é o dinheiro, assim como sempre foi.
A perda do corte pelo próprio Zack Snyder, aconteceu pelos mesmos motivos que se lança o Snyder Cut. Uma pressão que surge de fora para dentro. Muito menos fruto de um esforço do diretor e de um embate claro entre produção e direção, que tanto marcou os anos 1930/1940 e os anos 1980. Quando o diretor foi afastado de Liga da Justiça por uma triste condição pessoal, o universo de heróis da Warner já sofria pressão financeira e popular. A audiência nunca conquistada e o apreço não alcançado eram agravados pela boa recepção do leve Mulher Maravilha e pelo sucesso arrebatador feito pela Marvel, agora como parte da Disney. Esses dois universos são representantes maiores do que o cinema dos anos 1980 imaginou ser. Obras que nunca possuem o fim em si mesmas, que geram todo o tipo de produto e transformam seus espectadores em fãs assíduos, caçadores de referências, parte integrante de um núcleo de heróis, um verdadeiro parque de diversão para os produtores. O universo ideal para os estúdios.
Se lá atrás, antever o que o público gostaria era uma boa qualidade de um produtor, isso nunca esteve tanto nas mãos desses profissionais. Nesses filmes tão conectados com outras mídias, com outros filmes, com outros produtos, a resposta imediata da audiência via redes sociais é um guia para o produtor. Um estudo hora a hora do que a sua audiência, do que os fãs daquele universo, desejam para os próximos filmes. O público nunca esteve tanto no controle do corte.
No lançamento do primeiro episódio da nova trilogia de Star Wars, este artigo na Revista Cinética cita como pouco a pouco George Lucas teve sua autoria engolida pelos próprios fãs da série, até ele realmente ceder os direitos para Disney. A trilogia mais recente de Star Wars foi feita nos moldes do Universo Marvel, três filmes que buscavam completar aquilo que o público já cativo desejava. A trilogia resume-se a um primeiro filme que parece uma reciclagem da obra original, o segundo que gira em torno da volta de um personagem querido pelos fãs e um terceiro que tenta incorporar todas as opiniões feita nas redes sociais a partir das reações ao primeiro e ao segundo longa da série. A insatisfação foi quase total. Se antever o gosto do público parece fácil, entender que essa opinião está muito mais dinâmica do que há 40 ou 80 anos parece um desafio.
E se o que aconteceu com Star Wars mostra que nem a própria Disney conseguiu repetir a estratégia do mundo Marvel, Liga da Justiça passou pelo mesmo. Com Snyder afastado, a Warner ouviu o público, tentou fazer um filme como o concorrente, adicionou as piadas, a leveza, adiantou passos narrativos para fazer um filme que se fechava tanto quanto os Vingadores e seus capítulos finais. E apesar dos bons números de público, Liga da Justiça foi considerado um fracasso, um filme bastante esquecível além de tudo. Algo que colocou o universo da DC em cheque.

O produtor, que avidamente ouviu o público, teve que se contentar com sua rejeição. E anos depois, a audiência estava pedindo justamente por aquilo que criticava tempos atrás, a visão de Snyder. Nessa cadeia industrial que é o cinema, a única peça que não se pode demitir é o consumidor final, é a audiência. A Warner junto com a HBO, segmentos da mesma empresa, lançam sua plataforma de streaming, assim como a concorrente Disney. Esta tem como carro chefe lançar os novos episódios da Marvel em formato de séries para sua nova janela de exibição. A Warner não tem mais o universo de heróis, mas tem a movimentação estranha que pede para rever um projeto que deu errado. O corte do público vem, como sacada de produtor, de dono de estúdio, agora dono de conglomerado de mídia, cooptando o direito recém conquistado do público de ter seu próprio corte. Snyder que tinha sua versão na cabeça, mas não tinha nem em material bruto, refilma algumas cenas, escreve novas e refaz o filme. Talvez não do jeito imaginava, mas com quatro horas de duração que, ironicamente e nada coincidentemente, se encaixam perfeitamente na lógica da nova janela de exibição: oito capítulos dinâmicos, perfeitos para quem gosta de maratonar séries como aquelas lançadas pela concorrência.
A visão do diretor nunca foi tão condizente com a lógica de estúdio, um produto que visa um grande público que estava prestes a ser perdido. Público este que com a chegada do Snyder Cut sente-se muito mais parte da feitura do filme. Afinal, era ele que pedia a volta daquela história e a visão de seu diretor. No Brasil, A Liga da Justiça de Zack Snyder está disponível por um valor mais caro do que os outros filmes, assim como um belo produto em sua edição especial. A garrafa de Whisky comemorativa pelos 100 anos da Johnnie Walker parece mais autêntica. Entendendo que o público gosta de sentir que manda nesse novo cinema, a versão do diretor é apenas mais um produto e o Snyder Cut é o melhor exemplo de que o dono do corte no cinema americano sempre foi o dinheiro.