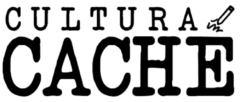Um dos momentos que mais chamam atenção no documentário Meeting the Man: James Baldwin in Paris é quando o famoso escritor começa a discutir com o diretor do filme, recusando-se a realizar uma cena. Um verdadeiro conflito de ideias e de posicionamentos que vira de cabeça para baixo uma produção que tinha tudo para ser um simples perfil de uma personalidade. Num embate bastante forte, o que se coloca em questão ali é a câmera como um instrumento claro de poder. O objeto do documentário como um operário das ideias de um cineasta, e a câmera do diretor como a sua própria máquina. Aquela discussão vai além de um traço de personalidade de Baldwin ou coisa semelhante, ela escancara a compreensão de um homem em relação ao poder de outro. Ela é uma disputa pelo controle da própria narrativa. E James Baldwin sabe disso.
Seria ingênuo acreditar na espontaneidade e honestidade total deste relato, principalmente após Jean Rouch, Morin, irmãos Maysles, Godard e Marker, o simples fato daquele diretor aceitar colocar aquelas imagens em sua montagem final, revela a construção narrativa em torno daquilo. Ainda que o diretor tenha o controle desse corte-final e de reconstruir sua narrativa e seus desejos a partir desse seu outro poder, a ação intelectual de James Baldwin é importante, sugestiva e principalmente didática. Porque no fundo ele escancara uma condição cruel do documentário, um fator quase impossível de ser renegado, o fato de haver entre criador e objeto uma relação de dominação. Dominação do outro em detrimento de provar e comprovar teses e ideias. Baldwin sabe disso, o escritor entende os meandros das narrativas, sejam as construídas, sejam as analíticas, e como no fundo tudo se mistura. Não aceitar as ideias de um diretor branco sobre sua condição de exilado é uma forma de romper a lógica do jogo. Num documentário tradicionalmente formal, não falar é um ato ludista em sua essência.
O texto de divulgação da Mubi, streaming que redescobriu o documentário, fala sobre o confronto entre o escritor negro e um presunçoso diretor branco. Realmente, as tensões raciais e a não compreensão de um “aliado” branco com as causas de um homem preto realmente estão lá, por outro lado, a palavra presunçoso individualiza a posição desse diretor. Porque a forma como aquele homem reage à Baldwin é mais do que presunção, arrogância ou qualquer adjetivo de subjetivação. Aquele ato de autoridade é a marca de sua condição de diretor, a sua condição de cineasta, a sua autoridade ideológica frente a qualquer objeto. A rusga entre a branquitude e a negritude consciente de sua condição de opressão só eleva a centésima potência esse papel opressor. Quando Baldwin clama para que a equipe não filme um jovem negro, porque ninguém ali sabe a dor dele, ninguém sabe o quanto uma filmagem irresponsável poderia fazer mal àquele homem, o escritor escancara que, de alguma forma, aquela câmera tem a mesma função do que uma arma nas mãos de um policial branco. A câmera como uma ferramenta mortal de dominação.
Ao evidenciar essa condição de opressão, Baldwin muda o curso do filme, de alguma forma toma conta da narrativa e reverte as condições da sua própria representação. Mr Baldwin só falaria com a companhia de homens e mulheres negras, avisa o documentário, e assim o escritor discorre sobre todas suas ideias. A questão é que isso só foi possível a partir do conflito entre o objeto do documentário e o diretor do filme. E a rusga filmada em 16 mm pode ser traumática, assim como todo processo de emancipação é, mas a questão é que o choque move o filme, tornando ele muito maior do que ele seria. O que permite uma outra afirmação, sem esse embate sobre o cinema como ferramenta de dominação, sem colocar a câmera a partir da perspectiva da arma, fica meio impossível um documentário chegar a um lugar maior do que as próprias ideias de seu diretor.
Principalmente nesse contexto pós Rouch, Morin, Godard e companhia, principalmente no hoje. É no mínimo simplista ou ingênuo recusar essa condição opressora do documentário, é necessário desconstruí-la e compreendê-la. Gestos dessa desconstrução são interessantes de serem avaliados, como o fato de Jean Rouch chamar seus personagens para narrar suas próprias imagens, como em Eu, um Negro. Ou ainda a volta de Eduardo Coutinho para terminar um filme interrompido pela história, reconhecendo a subjetividade da sua própria personagem em Cabra Marcado Para Morrer. E por fim, a obra metalinguística Symbiopsychotaxiplasm: Take One de William Greaves, que surge de uma experiência de vácuo de poder na realização de um filme. Todos essas obras colocam de alguma forma seu poder de dominação em cheque e suas narrativas são reorganizadas por essa condição.

Talvez a resposta mais rápida e comum no cinema do hoje a essa condição de dominação é a criação horizontal, a coletivização dos processos cinematográficos. Pode-se dizer que essa relação funciona melhor na ficção do que no próprio documentário. Os filmes de autoficção resolvem muito mais uma crise de representatividade ficcional do que o documentário propriamente dito. Ainda que essas fronteiras se borrem em suas definições e processos, o que se coloca aqui é a questão da autoficção fazer suas afirmações sobre o real a partir da fabulação cotidiana. O documentário colocado aqui é aquele que se propõe a lidar com o real da forma mais direta possível.
Nesta condição colocaria a trilogia de filmes-retratos de Gustavo Vinagre (Lembro Mais dos Corvos, A Rosa Azul de Novalis e Vil, Má), longas que se colocam a partir de uma relação conjunta entre retratado e retratista. A construção narrativa dessas obras, que em vários momentos partem para a autorrepresentação e para a performatização, conta com a adesão dos personagens e do público, para acreditar que as obras estão sendo construída ali, por Vinagre e por seus personagens. Ainda que muito disso seja verdade, a questão é que ainda é o diretor que dita o jogo presente em cena. É Vinagre que instiga cada pergunta a Julia Katherine, ditando os pontos de virada de Lembro Mais, é o realizador que opta por terminar Rosa Azul com o já famoso zoom anal, é a montagem autorizada pelo cineasta que divide Wilma em duas personagens diferentes em Vil,Má. A questão aqui não é uma crítica a esses filmes, mas uma provocação a uma característica impossível de ser alcançada, sobretudo no cinema retrato, a recusa do poder do diretor. Poder opressor por excelência, seja com boas ou más intenções. Ainda é o cineasta, munido de uma câmera e da fábrica do cinema, que define um personagem real.
A ideia de recusa desse poder parece mais interessante nas obras que partem do dispositivo para sua constituição narrativa. Domésticas, de Gabriel Mascaro, é interessante nesse ponto, colocando as câmeras do documentário nas mãos de importantes personagens do filme. Jovens filmam suas próprias empregadas. O que Mascaro faz aqui é muito mais do que um dispositivo para entrar na intimidade que constitui a relação de serventia no país. Ele materializa a questão do poder de dominação através das imagens produzidas por pequenos senhores. Aqueles personagens agem de fato como se fossem documentaristas clássicos fazendo proposições sobre uma classe social diferente da sua e que habita seu próprio apartamento. Gabriel Mascaro fornece a ferramenta de dominação para evidenciar ainda mais uma condição de opressão cotidiana. Existe no filme uma dinâmica que coloca todo o processo documental em choque, ainda que no final a montagem parte da concepção do realizador. Mas a questão é que esse poder da representação, fornecido pelo diretor do filme, faz com que a dominação de classe e suas contradições fiquem aparentes justamente pela prática corriqueira do documentar.
Talvez, por linhas tortas, outro documentário que expõe, de forma bastante clara, sua relação de poder é Santiago, de João Moreira Salles. Um outro filme retrato, outra obra sobre patrão e empregado e um filme que a câmera se coloca como arma mais do que em qualquer outra. Há muitas problemáticas em relação à obra de Salles, e elas de fato são bem coerentes sobre o filme e suas ideias. Uma certa falta de empatia entre documentarista e seu retratado, um certo tipo de mea culpa sobre a opressão social e principalmente uma estilização dessa narrativa de servidão. Se as críticas são justas, há na obra de Salles também uma forma corajosa de escancarar sua própria ferramenta de dominação. Claro que esse ato não apaga as outras condições, mas o que o diretor faz é virar uma a arma/câmera para si mesmo. Na condição justamente de evidenciar a incapacidade do retrato sem opressão e a impossibilidade do diálogo puramente empático entre documentarista e objeto. Sobretudo, uma incapacidade e uma impossibilidade de abrir mão da dominação. No caso de Santiago, essa conclusão ressignifica a própria relação entre Salles e seu mordomo, um caso em que a opressão de classe se escancara, sem uma amabilidade que se presumia de início. Nenhum afeto quebra o ciclo de opressão.

Ainda que o relato de Salles seja bastante controverso, há um valor em assumir suas próprias contradições. Pelo menos não presume uma certa inocência em relação ao público e ao seu próprio relato. Não se ausenta de sua própria violência. O conflito com o próprio poder da câmera está lá e talvez seja o mais importante no filme. Obviamente que um filme como esse só existe por relação de dominação fora da tela, que é ainda pior do que a tratada neste texto. O fato é que ainda assim, a compreensão da realização do documentário a partir da problemática da dominação é que faz o filme se colocar nessa discussão. O conflito da câmera como ferramenta de poder é uma questão central e que não pode ser deixada de lado em nenhuma produção contemporânea. Coutinho se expressa bem sobre a temática numa entrevista de 2011:
“Tem um monte de filmes que se aproximam do outro. Quem é o outro? O outro é o pobre miserável. O cara com defeito físico, o destituído tal, tal. E quem filma geralmente é uma pessoa de classe média, mesmo que com origem proletária. (…) Então existe o “humanismo” entre aspas, que os americanos adoram, que é filmar o pobre. O cinema humanitário é o pior cinema do mundo. O humanitário ou de mensagem. Al Gore, ou então, mensagem. E a outra coisa de americano é essa: se é um filme sobre negra e lésbica tem que ser filmado por negra e lésbica. Sabe? Iguais filmam iguais. Quando a minha tese é outra: negro tem que filmar branco e camponês tem que filmar negro e tem que trocar. Índio tem que começar a filmar branco e branco…sabe? Nada impede que branco filme índio. Precisa dos dois lados, um do lado de dentro, um de fora. Não tem sentido que um filme sobre metalúrgico só pode ser feito por metalúrgico.” (Eduardo Coutinho entrevista para a revista Pública, 2011)
Coutinho aqui versa sobre as duas principais questões deste texto, tanto um cinema que não percebe, ou finge não levar em conta suas ferramentas de dominação e poder. Assim como um cinema que se utiliza da horizontalização da criação para de alguma forma apaziguar uma relação conflituosa entre quem filma e quem é filmado. Como se nesse ambiente horizontal não existisse uma condição de poder, mesmo que entre iguais. Uma vez que a ferramenta (câmera) é o artifício que causa uma diferenciação de poder, constituindo uma nova lógica de dominação. Colocar a questão da câmera como ferramenta dessa opressão é essencial na feitura do documentário hoje.
Obviamente que a relação com a câmera e poder altera-se quando um grupo específico passa a detê-la. Caso de um recente cinema negro brasileiro, uma vez que existe uma ruptura entre ser o “outro” e passar a ser o “nós” ou o “eu”. Altera-se completamente essa equação entre dominante e dominado. Ainda que a câmera continue sendo arma, ela também passa a ser um elemento de defesa. O que aparece é uma consciência sobre essa ferramenta, que já foi usada muitas vezes contra seus próprios corpos. Esse cinema negro documental da última década no Brasil parece vir munido com a consciência da câmera como arma e isso implica numa relação completamente diferente com as obras que se cria.
Caso, por exemplo, do curta-metragem “Filme dos Outros”, um filme-ensaio dirigido por Lincoln Péricles que parte do material de hds de câmeras roubadas e revendidas. Constitui-se um documentário a partir das imagens do outro, reivindicando o lugar do “eu”, e assim como as imagens são roubadas, o conceito da câmera como ferramenta também passa a ser reapropriado. O curta é um anúncio, uma forma de gritar que agora os “outros” não são mais eles. O negro, o periférico, como diz Coutinho. Assim, como Baldwin em Meeting the Man, o processo de ruptura não é pacífico, se lá é o conflito cara a cara, bate boca filmado, aqui é o roubo das imagens dos outros. São só com essas ações disruptivas que essa condição opressora se reverte, se quebra, para assim constituir uma nova forma de criar essas imagens.

Se o conflito de Baldwin muda o curso de um filme, faz com que a narrativa seja tomada de assalto por ele. Péricles, através do roubo dessas imagens, faz com que sua condição dentro da cadeia de produção documental seja completamente alterada, ele passa da função do “outro” para dizer que ele “é”. Se o ato de Baldwin é ludista, o de Lincoln Péricles é disruptivo, coloca toda a cadeia, toda a lógica da indústria do documentário em cheque. Redefine o papel da câmera como ferramenta de poder, agora como ferramenta de defesa.