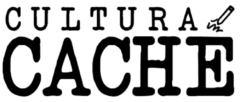Uma imagem tem me perseguido há um tempo. Como todos sabem, o cinema, sem dúvidas, foi, é e será uma das áreas mais prejudicadas com esta pandemia. Ao redor do globo, durante algum período, exibidores foram obrigados a fecharem as portas ao público, e em Portugal não foi diferente. Como parte da gerência de um cinema lisboeta, vi de perto esse movimento acontecer em dois períodos distintos. Atualmente continuamos fechados para o público comum, digo, para as pessoas, mas ainda exibimos filmes aos fantasmas.
Cinema sem projetor não existe e há pouco tempo sem projecionista também não, mas isso mudou. Hoje em dia, a grande maioria das salas de cinemas são automatizadas e o antigo trabalho do projecionista não faz mais sentido. Assim como um projecionista viu seu trabalho sucumbir de um dia para o outro, um projetor de cinema também, por conta das paralisações decorrentes da pandemia. E assim como um projecionista deprimiu-se com a falta de trabalho, o projetor também e, aos poucos, parou de funcionar. O projetor da sala ao lado viu a situação do seu colega e deprimiu-se também e assim sucessivamente os projetores foram se deprimindo.
Quando um dia passei pelo cinema para ver como estavam as condições desses equipamentos, eles não responderam. Restava um que quando ligado alertou-me do perigo da falta de trabalho dos seus colegas. A partir deste dia, passamos a colocar para trabalhar nossos queridos amigos, e aos poucos, os projetores foram respondendo. Todos os dias exibimos filmes aos fantasmas. Uma sessão por dia já é o suficiente para os projetores não se deprimirem. Na realidade, dizem que a humidade é que estava a prejudicá-los e, uma vez ligados novamente, não havia mais o perigo de avaria.
Essa é a imagem que me persegue, um cinema a exibir filmes a ninguém. Seria uma simbologia tão representativa da iminente morte do cinema? Acredito que não, mas sim da suposta morte do espectador. É romântico e engraçado falarmos de exibir filmes aos fantasmas, mas esses fantasmas não pagam as contas e, no fim, os projetores terão que ser desligados novamente. Esses fantasmas estão a ganhar cada vez mais força, pois o espectador está a morrer, ou como João Lopes abordou em uma coluna ao Diário de Notícias, o espectador clássico está a morrer. Mas antes de entrarmos nesse mérito, devemos esclarecer algumas coisas, para isso, vamos recuar um pouco.
Com o fechamento das salas de cinema já no início da pandemia em 2020, vimos uma vertiginosa ascensão das plataformas de streaming que, para muitos, assumiram o lugar das exibidoras de cinema. Mas será mesmo? Permitam-me fazer uma comparação barata, mas com o intuito de clarificar o porquê de não acreditar nisso. Digamos que sou um espectador de teatro, e que quando impossibilitado de assistir à uma peça ao vivo, substituo-a por uma novela, ou melhor, uma novela bem adolescente, tipo Malhação no Brasil ou Morangos Com Açúcar em Portugal, e agora toda vez que estou com vontade de ver uma peça, assisto à novela adolescente. É parecido com isso o fenómeno que acontece com o cinema neste momento.
Assim como teatro e novela são matérias distintas, o filme e o telefilme também o são. Antigamente isso era mais evidente pelo fato dos telefilmes disporem de orçamentos mais baixos, mas agora com as plataformas tendo grande poder financeiro os orçamentos aumentaram e o telefilme ganhou outra cara. Para esclarecer em que consiste esse termo pouco utilizado de telefilme – mas cuja utilização torna-se cada vez mais urgente no cotidiano para diferenciá-lo do cinema – elucidemos as palavras de André Rui Graça que, em seu artigo ao jornal Público, escreve que o telefilme, apesar de ter características semelhantes ao filme, não tem a capacidade ou pretensão de atingir certos patamares de validação cultural e que grande parte das produções de empresas como Netflix ou HBO são telefilmes justamente porque o modelo de negócio destas empresas fundamentam-se sobretudo na disponibilização individual dos conteúdos. Será mesmo, então, que o que essas plataformas realizam, em sua grande parte, é cinema? Vamos pegar como o exemplo o filme Mank, realizado por David Fincher, considerado um dos grandes realizadores contemporâneos. Será Mank um exemplo do que é cinema hoje ou a cartada final de uma Netflix que quer nos fazer acreditar que o que eles fazem é cinema?

Mank é um filme que não demonstra o menor interesse nas questões inventivas, criativas e formais, mas que por ser um metafilme, um filme que fala de cinema, e ainda por cima tendo como enredo uma estória que gira em torno de um dos maiores do cinema (Orson Welles), acaba por “convencer” as pessoas, criando assim um grande hype em torno do filme, onde todos saem da sala de casa a pensar que o que viram foi uma grande obra de cinema. Contudo, proponho para já, intitularmos a maioria das produções dessas plataformas – inclusive Mank – de telefilme, ou se preferirem inventar um termo mais claro e que diferencie da tevê tradicional, intitulemos: netfilmes. A partir do momento em que o mercado cinematográfico aceitou a ideia de netfilmes realizados por empresas de streaming, algo mudou. Não há como dizer que com o DVD tínhamos algo parecido, pois aquele DVD que assistíamos em nossas casas, normalmente (exceto straight-to-video), era a última etapa da trajetória da obra e tínhamos a consciência de que vê-lo em casa era uma experiência bem diversa ao ato imersivo de assisti-lo no cinema. E outra, a cinefilia cresceu com o cassete, dvd e etc, mas temo que morra com os streamings.
Para entendermos o porquê, vamos voltar ao Mank. Qual a relevância de Mank para o cinema, em que ele é inovador? Mank só perpetua e consolida uma forma unitária de se fazer filmes proposta por essas plataformas. Mank é um filme que é um simulacro de si próprio, como diz Luis Miguel Oliveira ao jornal Público. É um cinema sem identidade, justamente porque ele não tem capacidade de validação cultural, mas que por ter um carácter metalinguístico e ser realizado por Fincher, leva o espectador a achar que aquilo é cinema de jeito. Martin Scorsese, em um texto publicado há pouco tempo, levantou algumas questões pertinentes a se refletir sobre o caminho que o cinema está a tomar. Dentre essas questões, ele consta que, anteriormente os filmes e seus autores estavam constantemente a brigar para responder a pergunta: o que é o cinema? Mas na realidade, hoje, o que essas plataformas fazem é atirar uma fórmula pronta de cinema na nossa cara que em nada representa o cinema. E Mank serve como esse desserviço, justamente por ser a cartada final de um setor que quer nos fazer pensar que o que eles fazem é cinema, e que os próximos filmes similares que estão por vir também o serão e assim sucessivamente. Uma quantidade enorme de filmes presos dentro de uma caixinha e que nada contribuirão para a memória do cinema.
Para enxergarmos melhor esse sintoma, façamos então o exercício que João Lopes propôs em sua coluna, de olharmos no nosso dia a dia:
“Há cada vez mais pessoas que se referem aos filmes como entidades sem identidade. Literalmente. Com que atores é o filme? Aquele que fez aquele outro filme que também tinha aquele ator que… Quem o realiza? Não sei… Qual o título? Não me lembro…”
E para complementar, quando indicamos um filme ao amigo/a, o/a mesmo pergunta: Mas tem na Netflix, né?
Chegamos então a um assunto delicado, como bem acentuado por João Lopes. Essa discussão em relação ao espectador adentra-se em um assunto tabu: discutir a qualidade do espectador e não só do filme. Mas o fato é que o espectador clássico está a morrer, sendo ele aquele que ainda preservava de alguma forma a memória do cinema. Antes de mais nada é necessário esclarecer que a culpa, de todo, não recaí sobre o espectador. Se quisermos refletir como esse novo espectador enxerga o cinema, temos que pensar sobre o que é o cinema hoje e quem o representa e quem forma esses neo-espectadores. Tudo isso recai então no próprio cinema como indústria, e se essa indústria legitima o netfilme como cinema, para que o neo-espectador irá questionar essa decisão? Os Óscares são um sintoma disso, basta ver as nomeações.
Contudo seria muito redutor falar que essas plataformas em nada contribuem, já é sabido o investimento que as mesmas exercem em prol de uma maior diversidade, tanto do catálogo, quanto nos profissionais da área. Podemos pegar como exemplo o caso do filme Amarelo – É Tudo Pra Ontem, de Emicida, uma obra que tem a capacidade e pretensão de atingir os patamares de validação cultural – filme que deveria ficar marcado na história do cinema brasileiro, mas talvez não consiga, justamente por essa desvinculação entre a memória do cinema e o conteúdo de streaming. Então minha preocupação é que, ao mesmo tempo que haja essa inserção, alguns filmes caiam no limbo e fiquem exclusos da história do cinema, dentro da caixinha do esquecimento. Não creio que seja o caso de Amarelo, pois o filme tem a força de ser uma obra de arte à parte do simples conteúdo. Mas temo que muitos esvaziem-se em mero conteúdo e não consigam alcançar o poder transformador que a arte do cinema detém.
Não há como culpar alguém, o capitalismo funciona assim, quem detém o dinheiro é quem ditará o ritmo e neste momento ele está com as plataformas. Contudo, temos que acabar de uma vez por todas com essa balela de que o acesso à elas está democratizando o cinema. No programa Roda Viva, o realizador Fernando Meirelles defendeu com unhas e dentes essa ideia: de que uma pessoa poder assistir ao seu filme no metrô lotado ao ir para o trabalho é democratizar o cinema, mas será mesmo? É obvio que mais pessoas conseguiram assistir ao último filme de Fernando, bem como dito por ele, na altura, um número exorbitante de pessoas viram através dos telemóveis/celulares. Mas, analisando essas condições, qual a parcela dessas pessoas que sequer lembram do que viram? Essa falácia da democratização é uma mentira. Democrático seria um bilhete com um preço acessível a todos, pessoas de diferentes classes poderem ter uma experiência cinematográfica no cinema, não invalidando a experiência doméstica dos mesmos na Netflix ou semelhante. No entanto, não é isso o que acontece e as mentes pensantes do cinema devem refletir sobre tal fator, e não apenas perpetuar essa falácia da democratização porque convém para a sua produção e porque tem mais meios para se produzir um filme.
Scorsese fez isso e apontou para a questão problemática de como todos esses netfilmes são reduzidos ao conteúdo e equiparados a um vídeo de gatinho ou cãozinho. É o cinema rebaixado ao conteúdo como um termo comercial. E o mais agravante ainda é que o curador dessas mesmas plataformas, é o querido algorítimo – o maldito ser que agora está em todas as partes de nossas vidas a ler quem nós somos. A partir do momento em que este mesmo algorítimo é quem lhe escolhe o filme e este filme é baseado no interesse dos filmes que assistiu anteriormente, você acabará, no fundo, sempre por ver o mesmo filme com a ilusão de que é outro filme e vai querer ver cada vez mais – essa é lógica de mercado imposta pelas plataformas. E aqui não podemos esquecer de salientar que o exibidor de cinema também é curador, e as plataformas não substituem esse papel, pelo contrário, elas desvirtualizam a importância do mesmo, fazendo com que elas percam sua credibilidade. Em consequência, as distribuidoras estão com cada vez mais medo de investir, o que paralisa o meio e, ao invés de democratizá-lo, contribui para um monopólio dos netfilmes.
Podemos rejeitar a tese que a morte do cinema é a morte do autor, pois o artista estará sempre vivo, resistente e a criar sobre o tempo. Um exemplo disso foi a postura da curadoria do último festival de Berlim, que pelo o que tudo indica demonstrou que a arte de criar cinema não está morta. Porém, se o receptor, ou melhor, o espectador morre, aí sim, temo que o cinema acabe aos poucos. Se o espectador morre, não há ninguém para perpetuar a memória do cinema, e mesmo o artista podendo criar, não podemos esquecer que o mesmo nasce de um espectador. Como Kleber Mendonça Filho diz: “O cinema é o que me fez querer fazer cinema”. Então para que as próximas gerações de artistas do cinema preservem este legado, evidentemente temos que conscientizar o espectador de que é importante preservarmos a sua memória. Mas qual a saída? Os tempos mudam e o cinema se reinventa, mas a herança do cinema pode morrer com a morte do espectador, e sobreviver apenas em um clubinho minúsculo. Em alguns países isso fica mais claro, como o Brasil, uma vez que a desvalorização é tamanha em muitas esferas.
Desta forma, mais do que nunca, é necessário um diálogo e atitudes para que afastemos os fantasmas que entraram em sala durante a pandemia, para colocarmos as pessoas novamente. Além de empresas, precisamos de um Estado que invista e contribua com isso, e nós, amantes da sétima arte, também precisamos nos movimentar. Como Scorsese bem salientou, não podemos depender da indústria do cinema, tal como ela é, para cuidar do cinema. Se de cima para baixo não há esse movimento, devemos incentivá-lo por baixo, para mantermos a memória da sétima arte viva.
Festivais de cinema, cineclubes inclusivos, cinemas itinerantes, cinema como arte educacional, entre outras iniciativas, são muito importantes no momento de retoma do novo normal (ou novo anormal). E, mais do que nunca, temos de expulsar os fantasmas que nos assolam e viver o cinema frequentando tanto pequenas exibidoras quanto maiores – nada substitui o cinema como ritual e experiência imersiva audiovisual. Mas também podemos nos movimentar em rede, enquanto não há condições para tal: não podemos nos limitar a ver apenas netfilmes. E, além do mais, uma vez inseridos nessa lógica industrial, nós temos um poder como consumidor, e já que é para ser consumidor nós podemos mudar isso. Algumas plataformas tem uma curadoria mais interessante e podemos ajudá-las a crescer e perpetuar a memória do cinema em rede também. Mais do que nunca, temos que conservar o espectador consciente, aquele que, ao experienciar o cinema, consegue fazer dessa arte algo realmente transformador. Para já, indico o filme O Espírito da Colmeia, de Víctor Erice para exercitar o sentimento do poder que o cinema como arte pode exercer em nossas vidas.